O EXÉRCITO DOS MORTOS E O REI
“Sobre a terra se estende uma sombra terrível,
Lançando sobre o oeste longas asas de trevas.
A Torre treme; das tumbas de reis
a sina se aproxima. Os Mortos despertam,
chegada é a hora dos que foram perjuros:
junto á Pedra de Erech de pé ficarão
para ouvir a corneta ecoar nas colinas
De quem será a corneta? Quem irá chamar
da dúbia meia-luz o olvidado povo?
O herdeiro daquele a quem foi feita a jura.
Do norte ele virá movido pela sorte.
Seguirá pela Porta para as Sendas dos Mortos.”
Pg 32 e 33. (21)
Não há mais tempo ou espaço para um Aragorn cordial, ingênuo, amistoso e escapista. É tempo de conhecer suas trevas; seus talentos e o poder que existe na condição de ser o herdeiro do trono de Isildur. A jornada de todo aquele busca a meta da individuação não termina sem antes do confronto com a sombra.
Como já vimos na trajetória de Frodo e Gandalf, após a confrontação da sombra, ambos tiveram acréscimos em suas personalidades. O confronto de ego e sombra em Passolargo aparece simbolizado em sua ida até as Sendas dos Mortos. Na confrontação do ego com a sombra os conteúdos antes reprimidos e ocultos, agora se tornam disponíveis. Estes conteúdos agora presentes na consciência irão se tornar importantes ferramentas nas decisões a serem tomadas adiante.
O simbolismo de descer às profundezas dos mortos é um tema arquetípico, presente em muitos temas mitológicos e ou religiosos. O herói sempre sofre algum tipo de transformação em sua catábase. O herói da mitologia grega Ulisses fora instruído de que para ter sucesso em sua jornada de volta para casa, deveria ir até o Hades, o mundo dos mortos. Lá ele receberia a orientação do sábio Tirésias a respeito do caminho a ser percorrido.
Aragorn em sua caminhada até o mundo dos mortos receberia mais do que uma simples orientação, receberia sua honra e seu reconhecimento de ser rei. Com todo um exército recebendo suas ordens, só o fariam por reconhecê-lo como rei. Muitas vezes consideramos muitas de nossas características e ou talentos como “mortos” em nossas personalidades, um grande engano. Algumas situações nos parecem desafios maiores do que a nossa própria capacidade, podemos nos sentir inferiores e não capacitados, assim como Aragorn.
Porém, sempre quando enfrentarmos a nossa insegurança e o nosso medo de amadurecer e mudar, passaremos pelo conflito e o inconsciente que antes parecia tão terrível e ameaçador aos planos do ego, se torna um “grande exército aliado” para batalhas que a vida possa vir a desejar nos colocar.
Muitas vezes, acabamos por desprezar características e ou talentos em nossas personalidades em detrimento de um autojulgamento equivocado ou para buscar aceitação da sociedade. Com Aragorn, não foi diferente. A relação com o poder que era exagerado em Isildur, de forma oposta veio a se manifestar em Passolargo. Talvez por saber do trágico fim de seu antepassado, Aragorn optou em não manter nenhum tipo de relação com o poder. Faltou discernimento. Aragorn sempre buscou distância de suas responsabilidades como rei, não poderia mais menosprezar sua capacidade e seu legado. O que Aragorn reprimiu para sombra não foi sua responsabilidade em ser rei e sim sua capacidade em ser rei.
Que sempre possamos nos lembrar que dentro de cada um de nós, talvez exista um “exército de mortos” e é neste exército que poderemos retomar e redescobrir capacidades e ou talentos por muito tempo esquecidos pela consciência, mas não pelo inconsciente. Vimos aqui o desenrolar do conflito pessoal de Passolargo em relação a assumir sua condição de herdeiro do trono de Isildur. Agora, vamos acompanhar como se manifesta o arquétipo do rei e ou salvador no comportamento de Aragorn e no decorrer da estória.
O RENOVO DO REI
Um tema arquetípico que se repete em diversas mitologias e ou religiões, é o tema da sucessão universal do regente e ou sistema de governo. Um sistema de governo arcaico, ultrapassado e por vezes maligno, acaba por ser deposto ou destruído pelo seu sucessor que se torna um gestor de um novo tempo trazendo renovo e progresso ao seu povo.
Na mitologia grega podemos ver este tema na relação de Uranos e Cronos. Cronos castra seu pai e regente do universo Uranos, provocando a separação entre Uranos (céu) e Gaia (terra). Mediante a separação de Uranos (céu) e Gaia (terra), Cronos se torna o novo rei do Universo.
O próprio Cronos viria a ser deposto mais tarde também por seu filho, Zeus. Cronos havia se tornado um tirano, devorador de seus próprios filhos pois temia que um deles o destronasse, como previa a profecia. O apego ao poder acabou por cegar o amor de Cronos por seus filhos e tudo que lhe interessava era tão somente o seu governo.
Zeus fora ocultado por sua mãe Réia, que ao invés de entregar a Cronos o pequeno futuro regente do Olimpo, para ser devorado substitui a criança por uma pedra. O rei tirano não percebeu que havia engolido uma pedra no lugar do filho. Zeus cresceu sendo cuidado por outro casal e quando chegado o tempo, a profecia se cumpriu. Cronos fora deposto por Zeus e vomitou todos os irmãos do novo rei do universo. Zeus dá início ao reinado e logo tende enfrentar um inimigo antigo, resquício de um tempo perverso e hostil. O monstro Tifão, filho de Gaia (terra) que luta pela mãe, numa tentativa de retomar o governo do universo. Zeus vence a batalha e se consolida como o rei do universo.
Na mitologia babilônica o tema da disputa pela sucessão do governo tirano pelo novo regente, é representado pelo mito de Marduk e Tiamat. Tiamat a criadora de todas as coisas, criou bestas para atormentar os outros deuses podendo manter tranqüilamente seu governo tirano. Os deuses se reúnem em um banquete e proclamam Marduk como seu senhor e vingador.
Marduk enfrenta Tiamat e a derrota. Seu triunfo é coroado pelos deuses, elegendo-o o senhor do universo. Marduk cria mediante o corpo de Tiamat e dos corpos dos deuses súditos da rainha tirana, o Céu, a Terra o Abismo e o Homem, para servir aos deuses.
Todos este mitos trazem consigo o tema da necessidade de sucessão de um rei antigo que é regente de um governo tirano ou antiquado em progresso. O tema do arquétipo do rei ou do salvador do universo, traz consigo a necessidade de renovação.
O rei antigo precisa ser deposto, dando lugar a um novo governo, uma nova era. Podemos observar ao longo da análise como as condutas desastrosas de dois velhos governantes responsáveis por seus povos, vieram a conduzir o povo em desgraça.
Primeiro Theóden estava enfeitiçado por Saruman, Rohan é devastada pelos orcs. Liberto do feitiço, Theóden toma a trágica decisão de levar seu povo para o abismo de Helm. Em Minas Tirith, cego pelo apego ao poder, Denethor toma decisões influenciadas pelo complexo de Cronos, levando seus dois filhos a sofrerem grandemente por conta de seu desejo de manter seu status.
Boromir morreu e Faramir quase é assassinado pelo regente obstinado. Denethor também é o responsável direto pela destruição de Osgiliath,a cidade de Minas Tirith em sua boa parte e principalmente seu povo e exército.
As condutas tiranas, tolas e loucas citadas são frutos da mesma semente, a falta de autoconhecimento. A falta de autoconhecimento sempre irá afetar o poder de decisão de qualquer um, imagine agora quais as proporções de decisões tomadas por governantes sem discernimento de si mesmos. Bem, talvez basta lermos as notícias, não precisamos imaginar. É necessário que o novo rei morra e renasça e é justamente isto que acontece simbolicamnete com Aragorn na montanha das Sendas dos Mortos.
Estes textos trazem a explicação do porque é necessário que o velho rei dê lugar ao novo rei:
“O antagonismo, todavia, quer seja entre pai e filho, avô e neto, ou entre pai e pretendente, é sempre um combate pelo poder, cujo desfecho é a vitória do mais jovem. Ao que parece, essa luta, de início, entre pai e filho, fazia parte de um rito, o combate de morte que , nas sociedades primitivas, permitia ao Jovem Rei suceder ao Velho Rei.
Todo o contexto familiar, com os problemas morais que o mesmo comporta, foi acrescentado mais tarde, quando a sucessão patrilinear se tornou a norma vigente.” M G pg 82 (22)
Para encerrar uma pergunta: Por que o Velho Rei deve ser substituído?
Na Odisséia, XI, 494sqq., Aquiles, quando da visita de Ulisses ao país dos mortos, mostra-se preocupado com a morte de seu pai Peleu e pergunta-lhe se ele não é desprezado pelos mirmidões, uma vez que a velhice lhe entorpece os membros. Na realidade um rei envelhecido não é apenas um soberano demissionário, mas sobretudo um ser maltratado e menosprezado.
É que a função do rei, já que o mesmo é de origem divina, é fecundar e manter viva e atuante sua força mágica. Perdido o vigor físico, tornando-se impotente ou não mais funcionando a força mágica, o monarca terá que ceder seu posto a um jovem, que tenha méritos e requisitos necessários para manter acesa a chama da fecundação e a fertilidade dos campos, uma vez que, magicamente, esta está ligada àquela.” M G pg 83(23)
“Na expressão de Westrup, “o mérito pessoal é uma condição necessária para se subir ao trono dos antigos e a persistência da energia ativa é indispensável para conservar o poder real”. Donde se conclui que a sucessão por morte fundamenta-se no princípio da incapacidade, por velhice, de exercer a função real. “A razão é de ordem mágica: quem perdeu a força física não pode transmiti-la à natureza por via de irradiação, como deveria e teria que fazer um rei.” M G Pg 84(24)
“ Quanto mais recuarmos na História, tanto mais manifesta se apresenta a divindade do rei. Até à época mais recente ainda existia o reinado pela graça de Deus. Os césares romanos já usurpavam a igualdade com Deus e exigiam o culto pessoal correspondente.
Na Ásia Menor a realeza, de acordo com sua própria essência, se apóia toda ela muito mais em pressuposições teológicas do que em políticas. A psique do povo se revela aí como a fundamentação verdadeira e única para a realeza de Deus: o rei naturalmente é a fonte mágica do bem-estar e da prosperidade de toda a comunidade vital constituída pelo homem, pelo animal e pela planta útil; dele promana a vida e o crescimento dos súditos, o aumento dos rebanhos e a fertilidade do solo. Esse significado da realeza não é uma invenção feita de acréscimo, mas é um apriori psíquico que alcança a primitividade profunda e a pré-história, e que por isso equivale a uma revelação da estrutura psíquica. O fato de nós fazermos prevalecer os motivos racionais de finalidade representa apenas algo para a nossa maneira de conceber, mas não para a psicologia primitiva, que parte de pressuposições puramente psíquicas e inconscientes, em escala fora de toda previsão e mais elevada do que a nossa formação de imagens orientada para o que é objetivo.
A teologia da realeza, que nos é mais conhecida e apresenta certamente o mais rico desenvolvimento, é a do antigo Egito; são essas concepções que mais penetraram no desenvolvimento espiritual dos povos do Ocidente, principalmente pela mediação dos gregos.
O rei é uma encarnação da divindade e um filho de Deus. Nele reside a força divina da vida e da geração, o Ka, isto é, o deus gera a si próprio em sua mãe humana e nasce dela como homem-deus. Como homem-deus o rei garante o crescimento e a prosperidade do país e do povo, ao aceitar ele a sorte de ser morto quando o tempo estiver completo, isto é, quando sua capacidade generativa estiver esgotada.” Mysterium II pg 9 e 10 (25)
De acordo com a leitura dos textos acima fica fácil de entender que o renovo e o progresso de toda a Terra Média está ligado diretamente ao sucesso de Aragorn em sua busca pela meta do processo de individuação. A saúde do povo está ligada diretamente a saúde do seu rei.
O significado psicológico do tema da sucessão do rei, é correspondente ao sucesso ou fracasso que temos ou teremos diante da forma como lidamos com o desenvolvimento de nossa personalidade,em busca do Self, a totalidade.
Se formos conservadores, antiquados ou covardes, o “nosso reino”ou seja, as nossas vidas se tornarão estéreis e secas, sem produzir nada.
Se formos imaturos, impulsivos ou dependentes emocionais seja lá de quem for,” nosso reino entrará em crise”, necessitando sempre do auxílio e socorro de uma pessoa próxima.
Se formos inconstantes, “nunca conseguiremos juntar tijolos” o suficiente para construirmos as nossas vidas como desejarmos.
O inconsciente sempre irá nos incomodar de alguma forma, quando o ego estiver confortável ou apegado demais a uma determinada situação. Quando isto acontecer será um motivo não para nos entristecermos e sim para nos alegrarmos. Será chegado o momento de crescermos.
“Este é o seu reino, e o coração do reino maior que haverá. A Terceira Era do mundo está terminada, e a nova era começou; é sua tarefa ordenar o início e preservar o que pode ser preservado. Pois, embora muito tenha sido salvo, muita coisa deve agora morrer, e o poder dos Três Anéis também terminou. E todas as terras que você está vendo, e aquelas que ficam em torno delas, deverão ser moradias de homens. Chegou o tempo do Domínio dos Homens, e a Gente Antiga deverá desaparecer ou partir”. pg 178 (26)
“A Árvore no Pátio da Fonte ainda está seca e estéril. Quando terei um sinal de que um dia será de outro modo?
– Desvie seu rosto do mundo verde, e olhe para onde tudo parece desolado e frio! – disse Gandalf.
Então Aragorn se virou, e havia uma ladeira de pedra atrás dele, que descia da orla da neve; e, quando olhou, percebeu que ali, solitária, em meio à desolação, estava uma coisa viva. E ele subiu até ela, e viu que exatamente da orla da neve nascia uma muda de árvore que não ultrapassava noventa centímetros em altura. Já Já exibia jovens folhas longas e belas, escuras na face superior e prateadas por baixo, e sobre sua esbelta copa carregava um pequeno cacho de flores, cujas pétalas brancas brilhavam como a neve iluminada pelo sol.”(27)
Quando se têm a visão total a respeito de uma determinada situação, temos clareza para enxergar o todo, meditar, decidir e agir. Uma visão unilateral sempre continuará olhando para os mesmos ângulos e caminhos, sempre parcial, nunca total. Ao olharmos para ângulos e caminhos antes nunca examinados, com certeza iremos nos surpreender com os resultados. Da mesma forma que Aragorn procurou vida em meio ao exército de mortos e a encontrou.
“Então Aragorn exclamou: – Yé! utúvienyes! Encontrei-a! Veja! Aqui está uma descendente da Mais Velha das Arvores. Mas como veio parar aqui? Pois ela mesma não tem mais de sete anos de idade.
E Gandalf, aproximando-se, olhou para a pequena árvore e disse: – Realmente, esta é uma muda da linhagem de Nimloth, a bela, e esta foi uma semente de Galathilion, que nasceu do fruto de Telperion dos muitos nomes, a Mais Velha das Árvores. Quem poderá dizer como ela veio parar aqui na hora marcada? Mas este é um antigo local sagrado, e, antes que os reis caíssem ou a Arvore secasse no pátio, um fruto deve ter sido plantado aqui. Pois comenta-se que, embora o fruto da Árvore raramente fique maduro, mesmo assim a vida que existe dentro dele pode dormir através de muitos e muitos anos, e ninguém pode predizer o tempo em que despertará. Lembre-se disso. Pois, se algum dia um fruto amadurecer, ele deve ser plantado, para evitar que a linhagem desapareça do mundo. Aqui ele foi colocado, escondido nas montanhas, da mesma forma que a raça de Elendil ficou escondida nos ermos do norte. E apesar disso a linhagem de Nimloth é muito mais antiga do que a sua, Rei Elessar.
Aragorn encostou delicadamente sua mão á muda de árvore e ai percebeu, surpreso, que ela se prendia muito de leve á terra; retirou-a sem feri-la, e levou-a de volta à Cidadela. Então a árvore seca foi arrancada, mas com reverência; não a queimaram, mas a deitaram para que descansasse no silêncio de Rath Dinen. E Aragorn plantou a nova árvore no pátio perto da fonte, e ela começou a crescer rápida e alegremente; e, quando chegou o mês de junho, ficou carregada de flores.
– O sinal foi dado – disse Aragorn -, e o dia não está distante.”pgs 178 e 179.(28)
A velha Árvore Branca, fora arrancada, uma nova árvore fora plantada. A velha Árvore Branca já não era mais branca por ser viva e frutífera. Mas, por ser branca como a lepra, estéril e seca. O velho foi arrancado e o novo fora plantado, que tenhamos coragem para fazermos o mesmo em nossas vidas, sempre que necessário.
BIBLIOGRAFIA :
Bíblia Sagrada, 1 Pedro 2;6-8ª.(13).
BRANDÃO, Junito de Sousa . Mitologia Grega / Vol. 1. Petrópolis . Vozes . 11ª ed. 1997 .(22),(23),(24).
BRANDÃO, Junito de Sousa . Mitologia Grega / Vol. 2. Petrópolis . Vozes . 11ª ed. 1997 .(7),(8),(9).
CAMPBELL, Joseph . As Máscaras de Deus / Mitologia Ocidental . São Paulo . 5ª ed. Palas Athena, 2004 .
CHEVALIER, J & GHEERBRANT, Dicionário de Símbolos . 14ª ed. Rio de Janeiro . José Olympio . 1999 .(15),(16),
JUNG, C.G., Memórias, Sonhos e Reflexões . 22ª ed. Rio de Janeiro . Nova Fronteira . 2002 .(2),(20).
JUNG, C.G., Mysterium Coniunctionis / Vol 2. 3ª ed. Petrópolis. Vozes. 1997.(25)
TOLKIEN, J.R.R, O Senhor dos Anéis/O Retorno do Rei. 2ª ed. São Paulo. Martins Fontes. 2001 . (1),(3),(4),(5),(6),(10),(11),(14),(17),(18),(19),(21),(26),(27),(28).
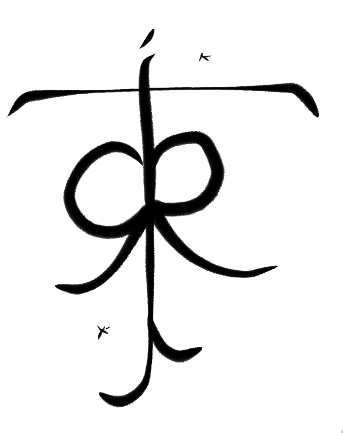
 Nos textos de Tolkien do princípio ao fim surge como pensamento fundamental o sentido da vida e da escritura: o famoso conceito de subcriação, que vê o homem chamado por Deus na obra da formação da realidade, evidentemente com distinções: o subcriado do homem é o mundo dos mitos, dos acontecimentos que remetem para a mensagem completa.
Nos textos de Tolkien do princípio ao fim surge como pensamento fundamental o sentido da vida e da escritura: o famoso conceito de subcriação, que vê o homem chamado por Deus na obra da formação da realidade, evidentemente com distinções: o subcriado do homem é o mundo dos mitos, dos acontecimentos que remetem para a mensagem completa.
 O autor China Miéville, um dos maiores nomes das nova geração de autores de fantasia, publicou no dia 15 de junho em seu blog um artigo falando sobre a obra tolkieniana. Conhecido por não ter “papas na língua” ao criticar a obra de Tolkien, Miéville desta vez nos apresenta uma lista de razões pelas quais devemos ser extremamente gratos à Tolkien. Não sem antes comentar, que em sua essência nem todas as críticas ao trabalho do professor são sem fundamento. Na verdade, segundo ele, existem argumentos perfeitamente razoáveis sobre o impacto, a natureza, a escala e o sucesso do trabalho do Tolkien. Argumentos esses não somente sobre o que é lamentável em Tolkien, mas, também sobre o que é indispensável. Mas vamos deixar de lero-lero e conhecer as razões que temos, segundo Miéville, para sermos gratos a Tolkien.
O autor China Miéville, um dos maiores nomes das nova geração de autores de fantasia, publicou no dia 15 de junho em seu blog um artigo falando sobre a obra tolkieniana. Conhecido por não ter “papas na língua” ao criticar a obra de Tolkien, Miéville desta vez nos apresenta uma lista de razões pelas quais devemos ser extremamente gratos à Tolkien. Não sem antes comentar, que em sua essência nem todas as críticas ao trabalho do professor são sem fundamento. Na verdade, segundo ele, existem argumentos perfeitamente razoáveis sobre o impacto, a natureza, a escala e o sucesso do trabalho do Tolkien. Argumentos esses não somente sobre o que é lamentável em Tolkien, mas, também sobre o que é indispensável. Mas vamos deixar de lero-lero e conhecer as razões que temos, segundo Miéville, para sermos gratos a Tolkien. A clínica da vintolescência
A clínica da vintolescência Tolkien criou uma nova mitologia, um mundo inventado que demonstra possuir um poder de atração atemporal. Tanto o filme quanto a adolescência retratam uma travessia, na qual os aventureiros se confrontam com perigos de todas as ordens. No filme são os Trolls, Orcs, Elfos, Dragões, etc. Na adolescência são as mudanças fisiológicas produzidas na puberdade. O corpo em transformação prepara-se para exercer a função de reprodução, o encontro com o outro sexo, o novo posicionamento no mundo onde os adolescentes devem desligar-se dos modelos identificatórios da infância, assumir o seu desejo, por sua própria conta e risco e, marcar sua entrada no mundo adulto. Em nossa cultura essa passagem é um verdadeiro enigma.
Tolkien criou uma nova mitologia, um mundo inventado que demonstra possuir um poder de atração atemporal. Tanto o filme quanto a adolescência retratam uma travessia, na qual os aventureiros se confrontam com perigos de todas as ordens. No filme são os Trolls, Orcs, Elfos, Dragões, etc. Na adolescência são as mudanças fisiológicas produzidas na puberdade. O corpo em transformação prepara-se para exercer a função de reprodução, o encontro com o outro sexo, o novo posicionamento no mundo onde os adolescentes devem desligar-se dos modelos identificatórios da infância, assumir o seu desejo, por sua própria conta e risco e, marcar sua entrada no mundo adulto. Em nossa cultura essa passagem é um verdadeiro enigma. O estudo foi orientado pela docente Cristina Carneiro Rodrigues e focaliza a tradução feita do inglês para o português por Lenita Maria Rímoli Esteves do livro The lord of the rings (O senhor dos anéis), do escritor John Ronald Reuel Tolkien. Para Patrícia, o tradutor está inevitavelmente presente no texto que produz. "Meu trabalho, ao identificar como isso ocorre, promove uma aproximação entre a reflexão teórica sobre a tradução e a prática efetiva dos tradutores", diz.
O estudo foi orientado pela docente Cristina Carneiro Rodrigues e focaliza a tradução feita do inglês para o português por Lenita Maria Rímoli Esteves do livro The lord of the rings (O senhor dos anéis), do escritor John Ronald Reuel Tolkien. Para Patrícia, o tradutor está inevitavelmente presente no texto que produz. "Meu trabalho, ao identificar como isso ocorre, promove uma aproximação entre a reflexão teórica sobre a tradução e a prática efetiva dos tradutores", diz.  O fato é que ele tinha um fantástico senso de imaginação, uma fantasia ilimitada e seus personagens – hobbits, elfos e magos – têm características próprias e sofrem os efeitos de uma peculiar geografia moral: o bem flui do oeste e a ele volta… O ataque ao mal vem sempre do leste. A Terra-Média, cenário da história, fica entre as forças do bem e do mal, campo de batalha de O Senhor dos Anéis. Quem leu e se apaixonou pelos personagens não vai largar hobbits, elfos e magos, pois que Stanton decifra em grande parte a recriação do mundo de J.R. Tolkien e responde às centenas de indagações a ele trazidas por seus alunos, durante todos os anos em que participou de discussões e deu aulas sobre o tema.
O fato é que ele tinha um fantástico senso de imaginação, uma fantasia ilimitada e seus personagens – hobbits, elfos e magos – têm características próprias e sofrem os efeitos de uma peculiar geografia moral: o bem flui do oeste e a ele volta… O ataque ao mal vem sempre do leste. A Terra-Média, cenário da história, fica entre as forças do bem e do mal, campo de batalha de O Senhor dos Anéis. Quem leu e se apaixonou pelos personagens não vai largar hobbits, elfos e magos, pois que Stanton decifra em grande parte a recriação do mundo de J.R. Tolkien e responde às centenas de indagações a ele trazidas por seus alunos, durante todos os anos em que participou de discussões e deu aulas sobre o tema. Os roncos de Tolkien tornaram-se um incômodo tão grave que ele e Edith acabaram chegando a um acordo incomum para a hora de dormir: ela passava a noite no quarto e ele dormia no banheiro.
Os roncos de Tolkien tornaram-se um incômodo tão grave que ele e Edith acabaram chegando a um acordo incomum para a hora de dormir: ela passava a noite no quarto e ele dormia no banheiro. Durante os treze meses que Frodo Baggins foi portador em período integral do Um Anel, pudemos ver transformações profundas no caráter do hobbit. Mas, essa terrível prova, acabou por deixar Frodo em um estado de espírito relativamente taciturno, mesmo muito tempo depois da destruição do Anel. Ao longo de nossas vidas, também passamos por fortes momentos de transformação e que, por vezes, podem resultar-nos em uma melhora ou piora de nosso ânimo. Afinal, o que foi que Frodo sofreu na Guerra do Anel?
Durante os treze meses que Frodo Baggins foi portador em período integral do Um Anel, pudemos ver transformações profundas no caráter do hobbit. Mas, essa terrível prova, acabou por deixar Frodo em um estado de espírito relativamente taciturno, mesmo muito tempo depois da destruição do Anel. Ao longo de nossas vidas, também passamos por fortes momentos de transformação e que, por vezes, podem resultar-nos em uma melhora ou piora de nosso ânimo. Afinal, o que foi que Frodo sofreu na Guerra do Anel?
 O artigo a seguir foi apresentado em um conjunto de comunicações integradas sob o título
O artigo a seguir foi apresentado em um conjunto de comunicações integradas sob o título